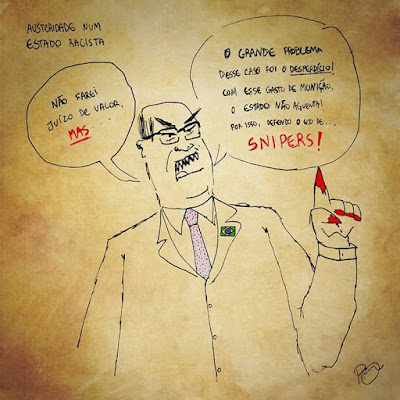O suplício de Moïse: do que padecemos neste país*
Luciane Soares**
A frase dita por Ivana Lay, mãe de Moïse Kabagambe deve ser
objeto de reflexão: “Matou meu filho, mesma coisa mata pessoa lá. Não tem
diferença, se eu soubesse ficava no meu país”. O jovem de 24 anos, refugiado
político da República Democrática do Congo, vivia no país desde 2011. Tinha
amigos, uma família, e um trabalho. Precário e incerto como o de tantos outros
jovens imigrantes africanos, latino-americanos, asiáticos, que vivem no Brasil.
Como tantas outras, sua família estava à procura de segurança e de um recomeço,
fugindo de uma guerra. Acreditaram que o Brasil seria o país certo, “uma mãe
que a todos acolhe”. Talvez não tenham visto as declarações do presidente sobre
sua visita a um quilombo quando ainda era pré-candidato. Jair Bolsonaro
declarou no Clube Hebraica que: “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais
leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem pra procriador ele
serve mais...”. E com este discurso, eleito presidente, seguiu destruindo a
cultura, a diplomacia brasileira e todas as representações de que o país
poderia acolher com segurança Moïse e sua família. Não podia. A declaração do
Itamaraty sobre o caso é insossa, descomprometida e não dá conta do assassinato
de congoleses no Brasil. Uma declaração que nada encaminha: “O Itamaraty
expressa sua indignação com o brutal assassinato e espera que o culpado ou
culpados sejam levados à justiça no menor prazo possível”.
Em 2018. Em uma noite durante minha aula na UENF
(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro), fui chamada por um
grupo de alunos para mediar um conflito. Um aluno se recusava a descer da
bicicleta para entrar no campus Leonel Brizola. O segurança, que dizia cumprir
ordens, estava a poucos metros de agredir o estudante. Após a mediação ouvi do
trabalhador terceirizado, orgulhoso de seu cargo que, “Em breve aquela baderna
iria acabar, o capitão estava vindo”. Faltavam poucos meses para as eleições.
Aquele quadro, como um ovo da serpente, possibilitou ver o que seria. Moa do
Katendê, morto em 8 de outubro de 2018, o reitor Luis Carlos Cancellier proibido
de entrar na própria universidade em que estudara. Desde então, não há um dia
sem abusos, mortes e violação dos direitos humanos. Claro que o governo
Bolsonaro não inaugurou estas violações. Precisamente, ele trouxe Carlos
Brilhante Ustra como patrono de seu governo. Explicitamente. Acharam que “não
seria tudo isto”. Mas foi. E foi ainda pior se considerarmos os casos de morte
por covid-19 no Brasil. Foi deliberado.
Não é necessário estabelecer uma relação causal como mostra
de evidências sobre as consequências da eleição de Bolsonaro para as minorias.
Como não é possível desconhecer a intensidade recente dos crimes de ódio em
escala global. Particularmente nos países que têm líderes de direita e extrema
direita a discursar cotidianamente sobre armas, uso da força, ataque aos
negros, mulheres, indígenas e todos aqueles classificados como indesejáveis.
Desde então, assistimos grupos que à luz do dia expressam simpatia por obras
nazistas e encontram na violência física a forma mais comum de resolução de conflitos.
As tentativas de linchamento contra os “indesejáveis” aumentaram no Rio de
Janeiro. Geralmente os alvos desta violência são homens negros. O mesmo perfil
dos mortos em favelas pelo Estado.
A brutalidade de mais um caso de racismo nos remete a George
Floyd. Ainda perguntamos onde está Amarildo, desaparecido dentro de um
contêiner de uma Unidade da Polícia Pacificadora no Rio de Janeiro. Devemos
lembrar de Kathlen Romeu, de 24 anos, grávida e atingida por bala perdida na
comunidade do Lins em junho de 2021 e de Cláudia Ferreira, arrastada por uma
viatura da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Em 2019, durante o governo
Witzel, seis crianças foram mortas em um curto período de tempo. O perfil?
Moradoras de comunidades, filhos de mães solteiras e mais importante:
investigações inconclusas. Todos estes casos têm em comum a falta de punição do
Estado. Casos recentes como o do Metrô em São Paulo no qual um segurança aplica
um mata-leão em um homem negro com um carrinho de bebê não são raros no país.
Devemos lembrar de João Alberto Freitas, morto dentro do Carrefour em Porto
Alegre, também espancado até a morte. Pedro Henrique Gonzaga, 25 anos, morto no
Extra da Barra da Tijuca em 2019. Também espancado por seguranças.
Em fevereiro de 2014, um jovem foi preso em um poste da
avenida Rui Barbosa, no Flamengo. Foi utilizada uma tranca de bicicleta. Ele
foi amarrado nu. A reclamação dos moradores era de que os roubos no bairro
haviam aumentado. O que me chamou a atenção neste caso, além da brutalidade,
foi a necessidade de desnudar o corpo negro. Assim como o corpo de Cláudia,
arrastado por uma viatura da Polícia Militar por 350 metros na estrada
Intendente Magalhães, no Rio. Assim como o major Edson, que seguiu recebendo
seus vencimentos após o envolvimento no caso Amarildo, o capitão Rodrigo
Boaventura foi promovido e não recebeu qualquer punição pelo envolvimento com o
caso Cláudia Ferreira. Esta é a regra. Em tudo isto há um modus operandi, uma
didática destinada àqueles que são genéricos, cujo corpo pode ser exposto ou
dilacerado publicamente.
As representações sobre nossa cordialidade e amabilidade têm
sido questionadas. Até recentemente não usávamos o termo xenofobia. Não por
falta de casos, mas por falta de registros nas delegacias. Mesmo o crime de
racismo ainda depende quase que completamente da vontade dos operadores do
Estado. Ou seja, é comum que ocorra uma discussão interminável sobre o que foi
dito e feito, com a intenção de desestimular o registro. Se não há registro,
não há racismo, xenofobia. Nem justiça. Uma rápida pesquisa sobre o número de
mortes em shoppings do Brasil após a aplicação do golpe mata-leão não deixa
dúvidas sobre a violência e o racismo nas interações cotidianas.
Pesquiso casos de racismo no Brasil desde 2001. Desde
discussões de trânsito até casos nos espaços de trabalho e moradia. Na dissertação
sobre o cotidiano das relações interraciais no Rio Grande do Sul, analisei 531
casos de delegacia. A maioria destes casos ocorria em espaços de trabalho ou
moradia. Ou seja, não estamos falando de conflitos que ocorrem por um
descontrole. Nada disto. Assim como no caso de Moïse, que é agredido ao
solicitar seu pagamento, estes casos ocorrem quando um empregado solicita
regularização de sua situação trabalhista, procura judicialmente por seu
direitos ou exige seu pagamento. Estes últimos, muitíssimo comuns entre
empregadas domésticas e mais recentemente, diaristas. Ou seja, os dados mostram
que há um importante cruzamento entre qualificação profissional e cor em caso
de racismo (ou injúria racial). A permanência deste quadro por mais de um
século, mesmo após a criminalização do racismo na Constituição de 1988, é
importante indicador do quanto nossas relações são regidas por atos de
violência herdados do período escravocrata. Nem metade destes casos chegam a um
inquérito e convido vocês a pesquisarem as sentenças nos Tribunais de Justiça.
No caso do tribunal do Rio, a análise de 52 sentenças é reveladora. Em 2013,
junto com as pesquisadoras Aline Lopes e Lygia Costa, analisamos sentenças e
documentos públicos de casos classificados como racismo ou injúria racial. Em
locais diversos. Encontramos uma concentração em situações de comércio, bancos,
supermercados, estacionamentos. Quando existe alguma indenização, ela foge ao
reconhecimento de que houve racismo (casos como as portas giratórias de bancos)
e apela para uma questão de direito do consumidor. Ou seja, em resumo, o
Judiciário do Rio de Janeiro (e certamente do resto do país) trabalha
diariamente na desconstrução dos casos cotidianos da mesma forma que o Estado
trabalha na não punição de agentes envolvidos em mortes e chacinas no exercício
de sua profissão. Mesmo quando agredidas fisicamente, essas pessoas não são
indenizadas de forma satisfatória. Em um exemplo muito comum de argumentação
lemos que “o fato de o autor ser abordado por seguranças por ocasião de sua
entrada no estabelecimento pertencente ao réu, revela situação corriqueira pela
qual qualquer pessoa poderia passar, o que não caracteriza constrangimento
decorrente de conduta indevida ou abusiva. Na verdade o autor sentiu-se
discriminado por razões de foro íntimo, ou de exacerbada sensibilidade, não
logrado êxito contudo, em demonstrar que fora submetido a situação vexatória ou
humilhante, como vítima da alegada discriminação racial”. O racismo no Brasil é
visto por estes operadores do direito como questão subjetiva. Nossa tarefa é
pressionar estas esferas para que se crie de fato uma jurisprudência a partir
destes crimes. E que eles sejam tipificados como racismo e não desqualificados.
Não temos a ampliação de delegacias de combate ao racismo e à
xenofobia no Brasil. Em 2001 tínhamos duas delegacias especializadas. Uma em
São Paulo e outra no Piauí. Este quadro teve alterações nos últimos anos? Como
pensar as práticas milicianas neste contexto? E a declaração de um dos
envolvidos, pedindo desculpas aos familiares e afirmando que não tinha a
intenção de matá-lo? Ou outro declarando que desejava “extravasar a raiva”?
Como explicar o racismo e os linchamentos diante do quadro apresentado? É
necessário que o negro enquadre-se em que mundo da ordem para sua perfeita
aceitação e ganho de confiança? Que sentimento explica os seguidos
linchamentos, se não são motivados por ódio racial? O problema seria explicado
pela pobreza ou vulnerabilidade daqueles a quem o ódio é endereçado?
Nas delegacias, a explicação para contrapor uma acusação de
racismo é geralmente esta: “Mas tenho um cunhado moreninho”, ou algo
equivalente. Interessante notar que a ordem da explicação remeta ao terreno dos
afetos, da intimidade, da afetividade. E sigo vendo o sorriso retumbante de
Gilberto Freyre. Como explicamos a coexistência de nosso “não” racismo
cotidiano com a sequência de linchamentos e execuções? Será nossa contribuição
ao mundo esta cordialidade apontada por Sérgio Buarque de Holanda, que tem
horror ao universal, igualitário, e adere com cores quentes ao familiar,
pessoal? Ao “negrinho” para montar e brincar, aquele que é “meu”: amigo,
cunhado, padrinho, porteiro... Será a exigência de um tratamento mais
igualitário uma das causas desta sensação de aumento da violência motivada por
ódio racial?
É possível que o brasileiro consiga trabalhar com dois
registros sobrepostos? O negro genérico que carregaria todos os elementos
descritos por Nina Rodrigues: a tendência ao crime, a embriaguez, ao roubo, a
vadiagem, ao excesso sexual e, ao mesmo tempo, o “meu negro”, gênio da raça,
fiel, afetivo? É possível que o brasileiro opere diferenciações entre os negros
que devem morrer e aqueles que merecem sua confiança e respeito? Como esta
operação é possível? O que isto nos conta sobre nossa formação como povo ou
civilização? Como seria um erro pensar em termos de avanços civilizacionais,
também podemos inverter a escala e admitir que o simples fato de utilizar tais
classificações raciais ao longo da história, já demonstra a distância entre
ideal e realidade.
As teses racistas não comprometeram apenas a liberdade dos
negros. Estamos todos enredados nesta área cinzenta na qual alguns ainda não
conseguiram aceitar um princípio básico sobre igualdade e humanidade comuns aos
homens sobre a terra. Por esta razão é preciso manter bem viva a desconfiança
sobre as possibilidades de emancipação humana dos negros no Brasil. O abalo
destas estruturas produziria uma crise sem precedentes na representação que os
demais grupos têm sobre suas virtudes morais, intelectuais, artísticas. E uma
sociedade assim, livre dos preconceitos, estaria “fadada” à liberdade.
A morte de Moïse é um dos capítulos mais tristes da nossa
história recente. Pedimos justiça e ampliação dos instrumentos de cidadania
para o acolhimento de todos que procuram o Brasil como um segunda casa.
* Publicado originalmente no Nexo Jornal. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2022/O-supl%C3%ADcio-de-Mo%C3%AFse-do-que-padecemos-neste-pa%C3%ADs?position-home=1&fbclid=IwAR1ixf9e9jlQe-lM5EYqVn4yRH2Pu5nT-O17DnWgrFi0WdK4Y3MPT-GS6Gw.
Acesso em 06 fev. 2022. O Ensaio foi aqui republicado com a autorização da
autora.
** Luciane Soares é professora associada da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Doutora em sociologia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, é chefe de laboratório do Lesce
(Laboratório de Estudos da Sociedade Civil e do Estado) e coordenadora do
Núcleo de Estudos Cidade Cultura e Conflito.
*** The trap of imaginary desires - Óleo sobre tela de Anastasia Ov. Disponível em: https://www.saatchiart.com/art/Painting-The-trap-of-imaginary-desires/1755764/8639643/view, acesso em 07 de fev. 2022.